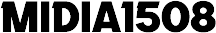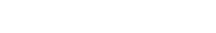Hoje, dia 20 de Junho, faz 10 anos que cerca de 1 milhão de pessoas tomaram as ruas do centro do Rio de Janeiro e foram recebidas de forma brutal pela repressão policial. Dia histórico da luta popular brasileira, onde a população em revolta colocou o símbolo da morte nas favelas para recuar na Avenida Presidente Vargas: o ‘Caveirão’, veículo blindado da polícia foi atacado com paus e pedras. Jamais esqueceremos.
Para relembrar essa data histórica das lutas populares no Rio e no Brasil, publicamos aqui o trecho do texto “O que houve afinal em 2013?” do livro de Camila Jourdan, professora de Filosofia na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, “2013 – memórias e resistências”:
Em 2013 vivemos no Brasil um levante popular, uma insurreição, como tantas que ocorreram nos anos anteriores em vários lugares do mundo: Wall Street, Grécia em 2008, Seattle. As características destas insurreições populares são, em geral, a horizontalidade organizacional; a recusa à via institucional e ao reformismo da esquerda partidária; uma revalorização explícita do anarquismo e dos valores historicamente associados à tradição libertária, dentre os quais destacam-se a busca pela participação política direta; a recusa às hierarquias e a recusa ao paradigma representacional. Entender 2013 é entender o nosso tempo e é fundamental que possamos contar nossa própria história. Atualmente podemos identificar ainda algumas linhas de leitura em disputas discursivas sobre o que significou 2013.

A primeira delas é a defendida pelo PT e seus aliados, que consideram 2013 um movimento fundamentalmente manipulado pela direita, que serviu para preparar o golpe contra o PT e, por isso, o avalia negativamente. A segunda é a defendida pelos ultraliberais, que procuram esvaziar o significado político dos atos de rua associando-os com “puro vandalismo vazio” ou mesmo com “ações terroristas”, alguns dizendo mesmo que esses vândalos eram pagos pelo próprio PT. Ao lado das duas leituras desqualificantes existem duas avaliações possíveis ligadas à esquerda institucional. Uma delas é positiva, porque considera que a crítica ao governo do PT aumenta as chances de vitória eleitoral ou crescimento por partidos de esquerda, mas se torna majoritariamente negativa na medida em que estes partidos não conseguiram dirigir o processo, tornando claro o afastamento deles da população. Há ainda grupelhos fascistas que, criticando também os ataques das ruas às instituições e ao capital, advogam via 2013 para pedir intervenção militar.
A leitura que aqui avançamos se afasta e se contrapõe a todas estas avaliações e se aproxima de uma percepção insurrecional de 2013. Em 2013 milhares foram às ruas, em todo o país, exigindo reais transformações sociais. Vimos se espalhar a rebeldia, a indignação, a revolta, o ódio ao Estado opressor, a luta por saúde, moradia e educação, o confronto direto com o capitalismo, com o monopólio dos transportes públicos, o ataque a bancos e a resistência aos agentes do Estado e demais órgãos da repressão. Esse também foi, e talvez fundamentalmente, o ano do surgimento da tática black bloc no Brasil.

A tática ajudou a dar voz aos protestos nas ruas, expressando uma crítica radical ao sistema e fortalecendo sua capacidade de resistir aos ataques da polícia à população. Já famosa em vários lugares do mundo, a tática que surge aqui em meio aos protestos de junho possibilitou que os corpos, diariamente jogados uns contra os outros pela máquina do mercado, se encontrassem igualados nas ruas, unidos para responder à violência inerente ao cotidiano das cidades e fundamental para a manutenção dessa sociedade desigual. Aprender a resistir, desafiar o monopólio da força destrutiva estatal e lembrar ao próprio povo e ao Estado que o oprime de onde deriva o poder. E foram milhares de jovens (ou nem tão jovens assim), usando escudos improvisados, máscaras, ou o que encontravam pela frente para resistir à violência policial.
O levante que se deu em junho contou com a presença popular maciça; pessoas que jamais haviam ido em manifestações; moradores de rua; negros das periferias das grandes cidades; feministas; gays; lésbicas…
Não foi um movimento da classe média branca, como se pretendeu estabelecer na grande mídia. Também não foi um movimento composto em sua maioria por “pessoas alienadas” que não sabiam pelo que lutavam, como também foi afirmado. Junho de 2013 não foi ainda “o início do golpe”, como quer fazer crer os aparelhos de reprodução de hegemonia da esquerda partidária. As pessoas sabem muito bem o que as oprime e é sempre bom ressaltar que nenhum intelectual esclarecido precisa contar isso para elas.
O alvo da revolta popular eram os agentes da sua opressão diária: ônibus; agências de bancos; palácios dos poderes; assembleias legislativas; veículos do monopólio da mídia manipuladora; viaturas policiais. Faz muito tempo que a favela desce quando a polícia mata uma criança, e que o povo queima ônibus e trens quando o transporte, já precarizado no geral, quebra justamente na hora da volta pra casa. Ninguém precisa ensinar a revolta pra ninguém. Mas o que encontrou-se desta vez foi a visibilidade do asfalto. Não era possível dizer que aquilo estava sendo orquestrado por traficantes, não era possível negar a dimensão política da revolta, uma grande camada da população estava lá, estava vendo. A potência de junho foi a do encontro da visibilidade do asfalto — onde as balas são, na maioria das vezes, de borracha — com uma certa democratização da violência de Estado para setores da população que não estavam acostumados a sofrê-la.

Não se tratava de uma ação orquestrada, e toda tentativa de gerar uma pauta única convergente, esvaziada politicamente e que apaziguasse a luta de classes, foi recusada pelas ruas. Nesse sentido, a multiplicidade de pautas e o caráter difuso foi mais uma força do movimento, era todo um modo de vida que se recusava. Não que os inimigos não fossem concretos e identificáveis, mas não havia um reformismo, uma reivindicação pontual que pudesse ser simplesmente atendida, mantendo-se toda a estrutura como estava e, assim, parando o levante. Isso, que foi razão em tantos momentos para que o movimento fosse acusado de utopista, sem foco, era sua força e sua identidade. Talvez pela primeira vez estávamos demandando modificações reais e radicais, que não ocorreriam sem mudanças estruturais e concretas. E a quebra do monopólio da informação possibilitada pela internet permitiu que as imagens fossem mostradas diretamente. O povo, a sociedade, assumiu o papel de sujeito histórico, a população participou da edição da história, não foi somente espectadora. A internet, obviamente, não faz movimento social. Ao contrário, ela surge como mais um modo de controle e de comércio, mas ela pode ser apropriada, pode ser também um instrumento de luta. A comunicação foi estabelecida em rede e se espalhou exponencialmente. As mídias digitais e as redes sociais serviram também para desmentir a constante desinformação da imprensa burguesa.
Não podemos deixar de notar a importância do desenvolvimento das tecnologias ainda não totalmente controladas pelo Estado, que permitem a criação de territórios livres, de zonas virtuais autônomas. E estas brechas abertas permitiram a passagem da insatisfação popular generalizada pelo país. Além disso, não podemos deixar de lembrar a participação dos trabalhadores, das greves não institucionalizadas e tocadas pela base independentemente das representações sindicais que marcaram 2013/2014. Greves radicalizadas, tocadas pelos professores, pelos rodoviários e pelos garis, pararam a cidade, unificaram demandas e foram fortemente reprimidas e criminalizadas pelo Estado.

Mas a violência diária já estava instaurada antes. As corporações capitalistas e os organismos financeiros, bem como o Estado que representa tais corporações e serve para calar o povo, impõem uma situação de guerra permanente. Recentemente, com os projetos de cidades requeridos pelos megaeventos, a ofensiva ficou ainda mais evidente: remoções; desalojos; fechamento de escolas; projetos de pacificação nas favelas; chacinas; “democratização” de um pouco da violência já permanente nas favelas e periferias para os centros urbanos de classe média no asfalto; megaempreendimentos como Belo Monte; aumento da violência também no campo; avanço sobre Terras Indígenas; gentrificação em geral; aumento do custo de vida com incentivo à manutenção do consumo, gerando um endividamento grandioso da população com os juros gigantescos; tribunais de exceção; suspensão do direito à manifestação; suspensão do direito de ir e vir…
O Estado não tem nenhum problema com o uso da violência, ao contrário, ele se arroga o direito ao seu monopólio. Se não fosse o caso, o que dizer de Pinheirinho, das bases militares nas favelas, dos incêndios criminosos, de Belo Monte, das prisões lotadas? Um episódio fundamental no Rio de Janeiro foi a desocupação da Aldeia Maracanã. Naquele dia, após o uso desmedido da violência policial, as pessoas atacaram com cocos os carros da polícia em frente à Alerj — a mesma Alerj que, um mês depois, seria tomada pela população com pedras e paus. No contexto, um aumento de passagem serviu como gota d’água para transbordar a insatisfação popular geral, mas, anteriormente, a principal fagulha foi a desocupação da Aldeia Maracanã e a luta de resistência que se seguiu. No Rio de Janeiro não foi o Movimento Passe Livre que colocou milhões nas ruas, de fato, nem mesmo em São Paulo foi (embora tenha convocado atos que depois massificaram). Foi todo um contexto convergente, com razões que já existiam antes, mas que se acirraram nessa ebulição social sem precedentes na nossa sociedade. Pela primeira vez foi quebrada a manipulação das oligarquias dominantes, diferentemente do que houve no “fora Collor”. Pela primeira vez, talvez, estávamos demandando modificações reais, que não seriam possíveis com a estrutura atual.
“Manifestantes botam pra correr o blindado Caveirão”, assista:
Vídeo de Fernando Rabelo.
—
* Publicação de 2020. O título original era “Relembrar Junho de 2013, 7 anos do recuo do ‘Caveirão’ no Rio de Janeiro”. Quando o texto foi escrito completava 7 anos das Jornadas de Junho.