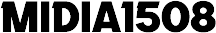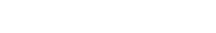Artigo de Júlio Zamarron e Irene Ruiz.
Fevereiro de 2022.
Nove anos após a eclosão do conflito no Donbass ucraniano, voltamos ao ponto de partida. Como jornalistas e testemunhas no terreno da guerra na Ucrânia, estamos particularmente aflitos com este eterno retorno ao que antes era uma tragédia e agora é uma farsa tão grotesca que é muito difícil de engolir; e ainda assim, em questões de política internacional, temos muito para engolir por aqui. Caso contrário, basta perguntar a Javier Solana, que passou de dar comícios anti-OTAN no Hebe de Vallecas para ordenar o bombardeio de Belgrado. Mas essas foram outras guerras.
A guerra de hoje não pode ser entendida sem uma compreensão do mapa político ucraniano e como ela responde às divisões linguísticas, religiosas e culturais que remontam a séculos atrás. O conflito não pode ser simplificado a uma questão de gás, rublos e tanques, pois o que está em jogo é, em grande parte, o controle de uma história. E infelizmente para os nostálgicos, também não se pode resumir à lógica da Guerra Fria, mesmo que derive diretamente dela. Não podemos pedir à opinião pública que aborde a política internacional quando ela é explicada por conflitos descartáveis (alguém se lembra dos afegãos? E o que aconteceu com o Cazaquistão?), mas é legítimo pedir um pouco mais de nível do jornalismo mainstream e da classe política que nos coloca em uma guerra de fragata.
Aqueles de nós que já cobriram conflitos armados sabem que as guerras não são feitas por histórias individuais, mas devem estar situadas na história e na análise geopolítica; não há nada mais coletivo do que guerras.
Talvez estejamos pedindo demais: Boris Johnson vai a Kiev para encobrir suas festas malucas em Downing Street, enquanto seu ministro das Relações Exteriores não consegue colocar a cidade russa de Rostov no mapa. A memória de Biden é falha e quando ele quer dizer Afeganistão ele diz Ucrânia, desculpe, Iraque, porque que diferença isso faz, e enquanto isso, Pedro Sánchez tira fotos telefonando para a OTAN e oferece Rota e fragatas, mas, como em Welcome Mr. Marshall, os americanos voltam a ignorá-lo e excluí-lo da rodada de negociações. O mais grave é que nada disso nos surpreende mais.
Em matéria de manipulação de informações, também não estamos em melhor situação. Aqueles de nós que já cobriram conflitos armados sabem que as guerras não são feitas por histórias individuais, mas devem estar situadas na história e na análise geopolítica; não há nada mais coletivo do que guerras. No entanto, é muito mais eficaz narrar um conflito através de testemunhos, de lágrimas, da dor e da empatia. O preocupante é que só ouvimos as vozes de uma parte do conflito, aquelas que interessa amplificar, porque a menos que você traga à tona histórias de vidas destroçadas pelo exílio e pela morte, ninguém vai comprar você para enviar uma fragata para um país a cinco mil quilômetros de distância, onde você não perdeu nada.
O problema vem quando nenhuma dessas histórias se mantém: em apenas duas semanas, vimos El Diario retificar uma história na qual entrevistou uma ativista ucraniana que é neta de um criminoso de guerra da Waffen SS-Galitzia, a divisão ultranacionalista ucraniana que implantou políticas nazistas no território. El Mundo também entrevistou Ivan Vovk, porta-voz da Associação Patriótica de Ucranianos na Espanha, cujas redes sociais o mostraram fazendo continência nazista cercado de parafernália militar alemã; e Televisión Española entrevistou mulheres idosas em Kharkov como “voluntárias civis”: é uma pena que as bandeiras com emblemas ultras e nazistas do Batalhão Azov, o destacamento militar fascista para o qual as boas senhoras costuravam redes de camuflagem, tenham caído.
A desumanização do que é russo levou a estereótipos xenófobos e excludentes: mafiosos e opacos para eles, sexualizados e passivos para eles.
Aqueles de nós que conhecem outras faces do conflito também têm histórias. A história do professor em Kirovsk que ficou sem escola. A da infância abandonada à sua sorte em hospícios sem futuro. A das babushkas (avós) que alimentavam as cozinhas populares. A dos voluntários “não passarão” de toda a Europa. Mas não é nossa intenção romantizar uma guerra: somente imbecis e fascistas, como Marinetti, que disse que a guerra é bela, podem idealizá-la. Nossa intenção é fazer um chamamento às pessoas para que não caiam nos erros de quase uma década atrás, em normalizar a agressão e a dor de um povo, em banalizar um conflito que está travado na Europa há uma década.

Eles estão mentindo para nós: uma parte significativa da população ucraniana que mais ativamente apoia a intervenção defendida por Washington, Londres e Varsóvia pertence a partidos e movimentos ultraliberais, de extrema direita ou neonazistas. Estes grupos foram financiados e cresceram no calor da “diplomacia branda” até provocar uma explosão social de enorme violência no país em 2013, na Praça Maidan. Convidamos você, pelo menos, a desconfiar de “democratas” e “patriotas” de origem obscura.
Eles estão mentindo para nós: os maus não são tão maus e nem os bons são irrepreensíveis. Não queremos parecer equidistantes, nem queremos parecer um panfleto pró-Kremlin-Beijing, mas temos que reconhecer que a russofobia está embutida no coração da União Europeia. É até anterior à União Soviética: as crônicas de Luca de Tena em Moscou no início do século 20 já estavam carregadas de ódio a todas as coisas russas; e depois Vallejo Nájera, nosso Menguele nativo, passou a estudar o gene vermelho, apontando para as mulheres russas como “fúria e repulsa”, por exemplo. A desumanização do que é russo (incluindo a população etnicamente maioritária russa em Donbass e Crimea, com toda a diversidade de posições dentro dela) levou a estereótipos xenófobos e excludentes: mafiosos e opacos para eles, sexualizadas e passivas para elas. Este silenciamento ativo de suas identidades é injusto, para dizer o mínimo. Em nível político, a lacuna linguística e cultural limita as informações que operam a partir destes territórios: poucas pessoas sabem que Donbass foi o coração de uma milícia popular e de um projeto político socialista destruído por seus próprios aliados. Tampouco é como se tivéssemos a permissão para contar a história.
Estamos sendo enganados: não se trata – somente – de gasodutos, oligarcas, clãs e investimentos, ou de escudos antimísseis. Trata-se de dominar as narrativas em torno do controle de uma região (o coração continental, como diria McKinder) e o que ela significa simbolicamente em nossa história. Vamos pensar sobre isso: uma Ucrânia com a hryvnia (moeda ucraniana) no chão e à beira da recessão pode se dar ao luxo de uma guerra? Quem iria querer um parceiro europeu assim? Da mesma forma, o que Moscou ganharia em confrontar o Ocidente quando toda sua artilharia diplomática é direcionada para a China? Vamos nos perguntar, quais são os interesses em recuperar a história de um Ocidente democratizante (através do imperialismo suave) e de uma OTAN forte em meio ao declínio da hegemonia euro-atlântica. É claro que, pelo menos em Donbass, dói dizer isso, mas sob Trump eles estavam em melhor situação.

Estão mentindo para nós: haja ou não conflito, o pior ainda não está por vir, porque já está aqui há anos. Por trás do alarmismo, dessas imagens de tanques na neve, há pessoas. Milhares de mortos. Seis milhões de refugiados. Populações condenadas a esperar por uma restauração pós-conflito que nunca chega. Um estado falido. Uma economia submersa entre clãs e oligarcas de todos os matizes que sufoca a população civil, especialmente as mulheres, transformadas em carne da indústria do sexo: mas isso é outra velha guerra.
Estão mentindo para nós: a cobertura de um conflito não pode ser deixada para Risto Mejide e para os telejornais de quatro agências internacionais. Há analistas maravilhosos, como Rafael Poch, como Inna Efigenoviena, como Pedro G. Bilbao, que fornecem dados e conhecimentos para enquadrar esta guerra fora da narrativa de conveniência, a de Biden, uma democracia controlada e dirigida e suas fragatas. Compartilhemos o trabalho deles. E, por favor, amigos à esquerda: parem de convidar Pedro Baños e, a propósito, convide alguma mulher. Somos poucas.
A máquina de propaganda faz a sua parte e os interesses geopolíticos fazem a sua. Mas gostaríamos, a partir do jornalismo crítico, do ativismo, ou simplesmente da curiosidade, de deter esta escalada de mentiras e manipulações e que sejamos críticos desta abordagem. Porque hoje é a Ucrânia de novo, mas sabemos que em outros momentos são as verdades mais próximas de nós que se afogam na intoxicação e na economia de atenção. Aqueles de nós que estavam lá onde ninguém chegou, nem a OSCE, nem os corredores humanitários, nem ajuda militar, nem ajuda civil, onde não chegou nem paz e nem trégua, também queremos contar.
—
Texto original de El Salto
Tradução: Mídia1508